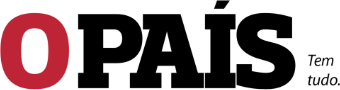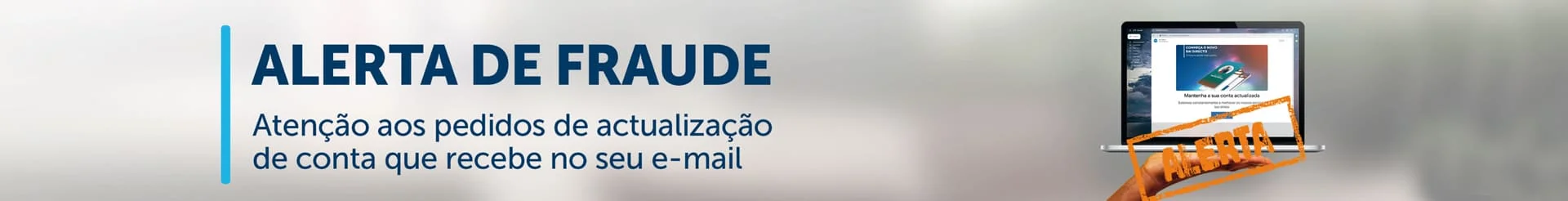Um desfecho inesperado e grandioso para Angola, mas distante do idealizado. Assim se pode classificar a saída de Angola da mediação do conflito entre a República Democrática do Congo (RDC) e o Rwanda, à luz dos resultados alcançados até o momento.
A grandiosidade reside nos avanços obtidos nas rondas de negociações em nível ministerial. A saída de Angola da mediação e o reforço da equipa de mediadores designados pela Comunidade da África Oriental (EAC) e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) reacendeu o debate – já em curso desde a semana passada – sobre a reunião entre os presidentes da RDC, Félix Tshisekedi, e do Rwanda, Paul Kagame, em Doha, no Qatar, sob mediação do xeque Tamim bin Hamad Al-Thani.
O encontro coincidiu com a data prevista para uma reunião entre autoridades congolesas e líderes do movimento 23 de Março (M23) em Luanda.
Naturalmente, o facto gerou amplo debate também na nossa redacção, especialmente após o destaque dado à possível vinda a Luanda dos líderes desse grupo rebelde congolês.
As discussões ocorreram tanto na nossa redacção física, em Talatona, como na virtual, na plataforma WhatsApp, onde a participação dos nossos correspondentes em Benguela e na Huíla é maior.
Em certo momento, o coordenador desta publicação, Dani Costa, abandonou a postura de mero observador e nos lançou o desafio de partilhar com os leitores nossas reflexões sobre o tema.
Desafio lançado, desafio aceito. Contudo, a pergunta central para iniciar esta análise — sobre um tema que já rendeu inúmeras linhas e, certamente, será estudado em cursos de Relações Internacionais, Ciência Política e Direito — é: por onde começar? Optamos por abordar a inclusão do M23 nas negociações, uma decisão que evidencia a experiência e maturidade de Angola na mediação de conflitos.
Ao fazê-lo, Angola sinalizou à União Africana, da qual recebeu o mandato de mediador, e ao mundo, que não se pode excluir um dos principais actores do conflito. Essa abordagem nos remete ao lema dos movimentos de pessoas com deficiência: “Nada sobre nós, sem nós”, amplamente utilizado durante a elaboração da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2006.
A analogia ganha força diante do comunicado divulgado esta semana, onde Angola reafirma a sua convicção de que sempre foi necessária uma via paralela de diálogo directo entre o Governo da RDC e o M23.
Embora o Rwanda seja, indubitavelmente, um dos principais interessados no conflito — dada a presença das suas forças militares em território congolês —, não se pode ignorar o papel central dos tutsis congoleses que compõem o M23.
Afinal, são cidadãos da RDC e terão sua parcela de responsabilidade na “factura” desse conflito – ainda que, no mínimo, sob o ponto de vista histórico, pela forma como os seus nomes ficarão registados na história deste país, rico em recursos mineiras, e na história dos conflitos armados em África.
Portanto, mais do que reconhecer o envolvimento do Rwanda como principal patrocinador do Exército Revolucionário, é imperativo integrar o M23 ao processo negocial — salvo se o grupo, por iniciativa própria, tivesse recusado o convite para a cimeira inaugural em Luanda.
Ainda assim, ao obter o consentimento da RDC e dos líderes do M23 para que a ronda negocial que ocorria em Luanda no dia 18 de Março, Angola sai do processo com o sentimento de dever cumprido.
Contudo, a ausência do M23 à mesa de negociações — após confirmação diplomática da presença — expõe o grau de influência de forças externas que lucram com a perpetuação do conflito. Sabe-se que, na diplomacia, o caminho entre os corredores e a mesa de negociações é longo e meticuloso.
Factores externos podem minar todo o processo. Estranhamente, dias – ou até horas – antes da reunião, já circulavam na imprensa africana notícias de que o M23 não compareceria a Luanda.
Certamente que tal informação deveria ter merecido atenção especial, de modo a evitar que o país continuasse a preparar o “banquete” no Palácio, na Cidade Alta, para um ilustre convidado que, à “socapa”, já havia anunciado a sua ausência – não se sabe se por decisão própria ou influenciada pelo seu principal financiador, presente no encontro de Doha.
Isso porque o Rwanda enviou uma mensagem silenciosa de que estaria pouco interessado no progresso alcançado por Angola, ao não comparecer na Cimeira de 15 de Dezembro passado, num momento em que as principais reivindicações das partes já estavam alinhadas para serem discutidas.
No entanto, mais relevante que analisar o comportamento do M23 ou do Rwanda neste episódio, é questionar: por que razão Félix Tshisekedi optou por seguir o caminho de Doha, deixando “as mãos” do Presidente João Lourenço, a quem tantas vezes chamou de “irmão”? Compreende-se que, nas relações internacionais, “não há almoço grátis”.
Porém, não se justifica agir como Caim e Abel — ainda que de forma moderada — quando RDC e Angola compartilham uma extensa e histórica fronteira, fruto da Conferência de Berlim (1884-1885).
Uma ligação geográfica e humana que os torna quase irmãos siameses, condenados a caminhar juntos em busca do desenvolvimento dos seus povos.
Seria esperado que, após o encontro com o Presidente angolano, Félix Tshisekedi ao menos comunicasse sua ausência à reunião em Luanda, já que fora convidado para um dos mais luxuosos palácios de Doha, no mesmo dia, onde reencontraria Paul Kagame — este último ausente de diversas cimeiras em solo angolano.
Tal gesto daria ao menos tempo ao seu “irmão” João Lourenço para cancelar o encontro e informar à comunidade internacional que as negociações ocorreriam em momento oportuno.
A menos, claro, que o silêncio tenha sido fruto de uma exigência de Paul Kagame, desconfortável com a entrada do M23 nas negociações e impondo a mudança de cenário como condição para o seu envolvimento.
Ao agir assim — e justamente quando João Lourenço lidera a União Africana — Félix Tshisekedi não apenas comprometeu o Processo de Luanda, que conta com a “bênção” de potências mundiais e da Organização das Nações Unidas – como também transmitiu ao mundo uma mensagem de que acredita que a solução para a paz na região não será encontrada em África.
Com essa “ultrapassagem pela direita” sobre Angola, Tshisekedi e Kagame fragilizam a credibilidade dos mecanismos africanos de resolução de conflitos – estruturas que, como chefes de Estado membros da UA, eles têm o dever de fortalecer.
Angola encerra o seu papel de mediadora num momento em que as conversações a nível ministerial entre a RDC e o Rwanda registaram progressos significativos, no sentido de se neutralizar o Exército Revolucionário Congolês e da retirada das Forças de Defesa do Rwanda do território congolês, para as linhas de fronteira entre os dois países.
Com isso, o próximo país, cujo Chefe de Estado vai conduzir o processo, coadjuvado pela equipa de mediadores da EAC e da SADC, terá maior facilidade do que teve Angola na fase inicial.
Desde já, consideramos como sendo bastante assertiva a estratégia destes dois blocos de reforçarem suas equipas de facilitadores com a entrada da ex-presidente sulafricana Kgalema Motlanthe, a ex-presidente da República Centro-Africana, Catherine Samba-Panza e do ex-presidente etíope Sahle-Work Zewde.
O trio se junta aos esforços realizados pelo ex-presidente queniano Uhuru Kenyatta e o ex-presidente nigeriano Olusegun Obasanjo.
No entanto, devemos ser realistas no sentido de assinalar que a “força externa” ao continente africano que atraiu Tshisekedi e Kagame às pressas ao Qatar é bastante poderosa.
Com isso, podemos concluir que, se a fórmula que o Qatar pretende usar for semelhante à aplicada na tentativa de resolver o conflito entre Rússia e Ucrânia, já podemos antever quem pagará a conta.
O título deste artigo inspira-se na obra “Quem Pagou a Conta? A CIA na Guerra Fria da Cultura”, de Frances Stonor Saunders — uma provocação que permanece actual: quem, afinal, pagará a conta desta nova “guerra fria” africana?
Por: PAULO SÉRGIO
*Jornalista